BLOG
Quinta-feira,
13/7/2006
Blog
Redação
 |
|
 |
|
| |
Gente como a gente
gosto mesmo é de gente interessante. aquela pessoa difícil de agradar, acidamente crítica ou simplesmente desbocada. um tipo de pessoa que não desperta meio-termo, ou se ama ou se odeia. gente que não nutre nenhuma espécie de preconceito. gente que me acrescente alguma coisa. pessoas com um inteligência rápida e certeira que me digam algo novo ou externem o que todo mundo pensa e não tem coragem de dizer. sabe aquele tipo de gente que é culta mas sem afetação? é o tipo de gente que eu gosto. gosto das pessoas que tem algo de puro em sua natureza e uma criatividade louca para lidar com isso. gosto de gente doce. mas não aquele doce do doce de jaca e sim aquele doce que se percebe no fim do café... gosto de gente que não se define, que é personalíssima, que imprime em tudo o que faz a sua marca. um tipo que não dá pra rotular porque não veste rótulos e não se encontra facilmente por aí.
madame imparfaite, no seu blog, que - você acertou - linca pra nós.
[Comente este Post]
Postado por
Julio Daio Borges
13/7/2006 à 00h44
|
| |
Festival de Cinema SP
Comecei ontem minha peregrinação ao 1º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, assistindo ao debate O Novo Cinema Latino-Americano, pela manhã, e ao filme Ilusão de Movimento, à noite. Farei uma coluna-balanço ao final, mas todos os dias postarei aqui minhas sugestões. Vamos às de hoje:
Memorial sala 1
16h, Butim de Guerra, sobre as avós da Praça de Maio.
22h, Histórias Mínimas, ótimo filme de Carlos Sorín.
Memorial sala 2
A programação é toda interessante, mas eu optaria por Salvador Allende, às 17h.
25 Watts, às 21h, é um belo filme, da nova safra uruguaia (dos mesmos diretores de Whisky).
Cinesesc
17h, O Cachorro, belíssimo filme do argentino Carlos Sorín. Imperdível (está em poucas locadoras).
21h, diversos curtas - é a chance de ver filmes a que dificilmente teremos acesso depois do festival.
[Comente este Post]
Postado por
Guilherme Conte
12/7/2006 às 14h01
|
| |
Zidane e a Marselhesa
Passadas mais de setenta e duas horas da final, discute-se muito mais a cabeçada de Zidane do que o tetra da Itália. E o mundo ainda se pergunta por que Zidane fez aquilo, o que o zagueiro da Azurra teria dito de tão grave. Pois minha pergunta é outra (embora mais à frente se perceba que as razões são semelhantes): por que Zizou não cantou o hino francês, o empolgante hino francês, o beligerante hino francês, quando o estádio emocionava o mundo ao entoar os famosos versos da Marselhesa? Minha hipótese é simples: porque Zidane entende francês e conhece História.
Nós, aqui do Brasil, sempre assobiamos a melodia da Marselhesa ou cantarolamos "Marchon!, Marchon!" sem necessariamente nos ater à tradução do grande refrão:
"Às armas cidadãos!
Formai vossos batalhões!
Marchemos, marchemos!
Nossa terra do sangue impuro se saciará!"
Que "sangue impuro" é esse? Talvez à época se referisse aos invasores, aos pagãos, até aos ingleses, mas não é fácil associar esse verdadeiro grito de guerra ao velado racismo que os imigrantes sofrem na França? Aos cidadãos que deixaram as ex-colônias francesas, empobrecidas, miseráveis, em busca de alguma oportunidade na terra do sangue puro? E ironia das ironias, Zidane, craque da seleção francesa que faz o hino ecoar por milhões de lares do mundo, é filho de argelinos.
Em artigo anterior, "Você se sente mais brasileiro por causa da Copa?", eu já havia falado a respeito do nacionalismo em tempos de Copa, dos paradoxos desse nacionalismo, mas parece que a grande final colocou de vez a política ao lado do esporte. Não bastasse esse simbólico gesto do craque francês de não cantar o hino, houve a cabeçada. E mais do que isso, as especulações em torno do porquê da cabeçada. E mais ainda, as repercussões.
Circula nos jornais uma infeliz frase de Roberto Calderoli, vice-presidente do senado italiano: "Foi uma vitória de nossa identidade, onde lombardos, calabreses e napolitanos venceram uma seleção que sacrificou sua identidade ao escalar negros, muçulmanos e comunistas."
Por favor!
Em pleno ano 2006, depois de uma festa multirracial como a Copa do Mundo, um importante governante do país campeão profere uma frase digna de Mussolini ou Hitler! Primeiro, ele beira a idéia de que a raça italiana é pura e, por isso, melhor que as demais. Depois, ele mistura negros, uma etnia, com muçulmanos, uma religião, e comunistas, uma ideologia política, como se os colocando todos à margem, evidenciando ódios e pelo menos três tipos de racismo.
Zidane por acaso é branco. Por acaso é francês. Talvez muito provavelmente não seja comunista. Mas talvez seja muçulmano. De certo é filho da colônia escravizada pela França. E aparentemente é um homem bastante inteligente. Zidane não cantou e nem poderia cantar o hino louvando o sangue puro que sujou o sangue de seus descendentes. E provavelmente Zidane tenha motivos sérios para dar aquela cabeçada, deixando de lado a hipocrisia de herói nacional dos esportes para assumir a condição de homem engajado em uma causa. Não se sabe "a causa". Talvez nunca se saiba. Mas uma coisa é certa: estivesse eu no senado italiano quando o senhor Calderoli proferiu aquela pérola, teria imitado a atitude do craque francês.
[4 Comentário(s)]
Postado por
Marcelo Spalding
12/7/2006 às 08h05
|
| |
And music is the best
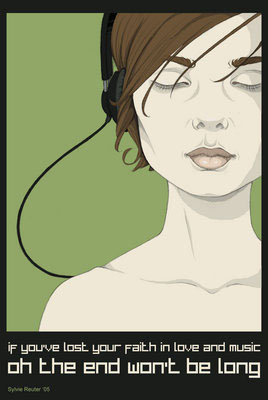
Um lembrete do Mazlon, cujo Handful Of Nothing linca pra nós.
[Comente este Post]
Postado por
Julio Daio Borges
12/7/2006 à 00h17
|
| |
Paladar desconhecido

Os restaurantes da rede de hotéis Sofitel promoveram a união de sabores exóticos com dois típicos ingredientes brasileiros: café e chocolate. Se, sozinhos, eles já dão água na boca, imagine acompanhados de criativas invenções assinadas por chefs renomados.
O Festival Café et Chocolat aconteceu entre maio e junho em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Costa do Sauípe. "Fizemos combinações desconhecidas porque dificilmente os ingredientes comuns combinam com chocolate", explicou o Chef francês Patrick Ferry, do restaurante Aquarelle, em São Paulo.
No menu criativo, sabores brasileiros e asiáticos: Tofu de chocolate (que leva açafrão, calda de peixe, chocolate e outros retoques) e Patilla de Pato (carne de pato com gengibre, molho de soja e chocolate). A alta gastronomia caminha rápido para o exótico e não convencional - mistura quente e frio, doces e salgados. Arte criativa que serve a um exigente senhor: o paladar.

[Comente este Post]
Postado por
Tais Laporta
11/7/2006 às 08h26
|
| |
Amanajé no Mojave Jazz Bar
Para quem está enjoado de barzinhos de jazz em que só se pode ouvir standards ou cantores de violão a tiracolo mandando ver no Djavan (para não falar das "mpbices" modernosas estilo Jorge Vercilo ou Adriana Calcanhoto), vale a pena dar uma passada pelo Mojave, na Vila Madalena, para ouvir o Amanajé, nas quartas-feiras de julho. O quinteto só toca composições próprias, e a proposta do grupo é construir uma linguagem com elementos do jazz, da música regional brasileira e da música européia (que é uma denominação mais acadêmica para o que a maioria das pessoas conhece como música clássica ou erudita).
Amanajé, em tupi-guarani, quer dizer o alvissareiro, o portador das boas novas. Esse otimismo no nome contagia as canções do grupo, raramente melancólicas ou reflexivas - pelo menos no que reflete o repertório escolhido para o palco, na primeira noite dessa temporada de julho. Curiosamente, nenhum dos músicos é de São Paulo, embora eles tenham se conhecido e formado o grupo na região metropolitana. Rafael Ferreira, saxofonista apenas correto, mas flautista sensível, vem de Mogi-Mirim; Thiago Righi (guitarra, violão e bandolim), de Botucatu; o baterista Tiago Domingues, de Itu; o criativo baixista Rodrigo Pinheiro - boa surpresa da noite - vem de São Manuel; e no teclado, Hercules Gomes, de Vitória do Espírito Santo.
Do jazz, logo de cara, vem a improvisação, que não chega a tirar o fôlego, mas funciona razoavelmente no encontro com a música brasileira - baião, maracatu, frevo, samba. Composições como "Reencontro", de Righi, e "Baião para 10 de Setembro", de Gomes, têm solos mais livres, embora haja muito espaço ainda para troca, para os músicos "conversarem" e irem além. A formação acadêmica ajuda a garantir um bom nível: Ferreira e Pinheiro vêm da USP; Righi, Domingues e Gomes da Unicamp, o que puxa um contraste entre erudito e popular que o grupo nitidamente tenta conciliar. Por outro lado, a mesma formação amarra a inventividade e deixa o som com o pesado cheiro de papel das partituras.
Nem nos momentos mais líricos, como as músicas "Nascimento", "Reencontro" e "Estrela Azul", o som do grupo prima pela sutileza; porém, a julgar pelo sopro convidativo e distinto de Ferreira na flauta, esse é um caminho possível para o Amanajé. Mesmo sem investir muito na construção de climas e texturas, o grupo segura o pique até o final. O custo é grande para ouvidos mais sensíveis, que podem cansar da bateria animadamente incansável de Domingues, que parecia levar os outros músicos a subirem o volume.
O ponto alto do Mojave são as apresentações ao vivo, mas sem perder o clima gostoso de boteco. Todo de madeira, com vinis de álbuns de jazz nas paredes e um balcão imponente de madeira na entrada, o bar é muito mais um lugar para ouvir música do que para papear. O Amanajé existe desde 2003 e já lançou um CD independente, Amanajé, distribuído pela Tratore. No momento, estão em fase de pré-produção do segundo álbum.
Para ir além
Local: Mojave Jazz Bar
(Rua Mourato Coelho, 740 - Pinheiros)
Datas: 12, 19 e 26 de Julho
Telefone (informações e reservas): (11) 3813-2063
Couvert Artístico: R$ 10,00
Duração: 2 horas
Capacidade: 150 pessoas
[Comente este Post]
Postado por
Verônica Mambrini
10/7/2006 às 08h43
|
| |
Poesia nunca é best-seller
Qualquer poeta que não seja consagrado é independente, e os independentes são mais regra que exceção. Sempre foi assim. Acho que nós somos de uma geração acostumada a ídolos, bens culturais, ícones pop, atores de Hollywood etc., nosso tempo é do: ou você vende milhões de exemplares ou você não é ninguém. Mas isso não se aplica à poesia. Na narrativa temos até os best-sellers, mas não existem best-sellers poéticos. Todos os poetas famosos são poetas velhos. Manuel de Barros levou uma vida inteira até ser o Manuel de Barros. Infelizmente, ou felizmente, na poesia não existe essa ânsia. Acho que ninguém sonha em ser poeta para ganhar dinheiro (teria que ser muito burro para pensar isso). Acho que a poesia é o lugar onde o sentido da arte, que é um sentido da diferença, da singularidade, ainda permanece, isto é: o sentido do caminhar, do compor, e não a busca por "resultados". Um sucesso futuro é mais decorrência do acerto ou do erro do que da exigência de um mercado. Nem Ferreira Gullar vende tanto quanto se espera que venda um poeta famoso...
Márcio-André, em entrevista a Lisardo Lopes, no Pré-texto.
[2 Comentário(s)]
Postado por
Julio Daio Borges
10/7/2006 à 00h52
|
| |
O óbvio final de Belíssima

A novela Belíssima chegou ao fim neste final de semana, após muito suspense e uma enorme celeuma em torno de dois enigmas: o nome do "grande vilão" que estaria por trás do golpe desfechado contra Julia (Glória Pires) e a identidade do filho de Bia Falcão (Fernanda Montenegro) e Murat (Lima Duarte), abandonado pela mãe ainda bebê.
Foi, no mínimo, frustrante assistir ao último capítulo, transmitido na sexta-feira, dia 7/7, e constatar que o autor, Silvio de Abreu, apelou para as soluções mais simplórias, fazendo de Bia a vilã misteriosa que levou Julia à ruína e de Vitória (Claudia Abreu), a filha renegada por Bia e desaparecida há mais de trinta anos. A impressão que ficou foi a de que faltou criatividade e que, após oito meses de trabalho, Silvio de Abreu estava cansado e decidido a pôr um ponto final na história de qualquer maneira. Um thriller seja ele um livro, um filme, um seriado ou uma novela de televisão não pode, de forma alguma, terminar de maneira tão óbvia e previsível, ainda mais depois de gerar tanto mistério. O ideal seria que o filho de Bia e Murat fosse também o grande vilão e tivesse arquitetado o golpe com o intuito de ajustar contas com o próprio passado. E que fosse alguém totalmente insuspeito, capaz de causar surpresa e espanto entre os telespectadores quando sua identidade e seu plano maquiavélico fossem, enfim, revelados.
Sob esse aspecto, Belíssima se assemelha menos a A Próxima Vítima, novela policial escrita pelo próprio Silvio de Abreu em 1995 e cujo desfecho surpreendente para os crimes em série praticados ao longo da trama entrou para a História da televisão brasileira, e mais a O Astro, de Janete Clair, grande sucesso de 1978 e que, assim como Belíssima teve um final decepcionante, após meses de suspense intenso. Nele, Janete escolhia como o assassino de Salomão Hayalla (Dionísio Azevedo), o personagem Felipe (Edwin Luisi), que era amante de sua mulher e fora desde sempre o maior suspeito. Pelo visto, ainda está para surgir um escritor de thrillers realmente competente na televisão brasileira e que não traia os seus telespectadores com tramas em que predominem o anticlímax e a falta de criatividade na solução dos mistérios.
[11 Comentário(s)]
Postado por
Luis Eduardo Matta
8/7/2006 às 08h45
|
| |
Futebol e política
Mais chato que gente que gosta de futebol, só gente que não gosta de futebol. Enquanto todos estão comovidos pela eliminação do Brasil da copa (ou, pelo menos, fingindo um pouquinho, só por educação), os que não gostam de futebol levantam de suas cadeiras e falam tiranicamente que foi melhor assim, pois, agora, podemos nos preocupar com a política do país. Só um palerma pensaria em política nessas horas. Política é essencialmente enfadonha, é a ciência desenhada na forma de gente feia discutindo sobre laranjas. Sinceramente, prefiro duas horas de algum jogo do Mogi-mirim do que treze segundos diante de gente do PCdoB. E quatro segundos com gente que não gosta de futebol seriam o suficiente.
Me parece grosseiro achar que a nossa falta de interesse por política seja culpa do futebol. Ou do carnaval. Ou de qualquer outra coisa que não a própria política. Aliás, o que mais considero positivo no povo brasileiro é justamente seu menosprezo por política. E digo mais: é perfeitamente saudável suspeitar de quem se interessa por deputados discutindo os resultados das safras de cana-de-açúcar.
Para mim, é meio esquisito esse papo de que devemos nos preocupar com política. Afinal, da mesma forma que um mecânico é pago para não nos preocuparmos com motores, os políticos são pagos para não nos preocuparmos com a taxa de crescimento do Acre. Simples assim.
Agora, quase consigo ouvir alguém me dizendo que o papel cívico de toda pessoa é acompanhar o trabalho de quem recebe nosso dinheiro, principalmente daquele vereador esquisito e bigodudo que o porteiro do seu prédio pediu para você votar. É como se você fosse obrigado a questionar cada etapa do trabalho do padeiro, ou do músico, ou do enfermeiro, sei lá. Por que tudo isso de farinha? E essas notas aí? Vejo um mundo cheio de gente com pranchetas e óculos na ponta do nariz fazendo xizinhos e caretas de desaprovação. E este mundo seria inviável.
Claro, existem os maus profissionais. Por isso Deus inventou a demissão. E os conselhos.
Sim, sim, mas como se demite um político, sendo que ele é protegido pela democracia? Por mim, demitiria todos. Mas veja lá, o bigodudo dizendo que ele foi eleito pela vontade do povo. Viu o poder que o seu porteiro tem? E essa questão é tão chata que eu deixo para os chatos responderem. Esses aí, que não gostam de futebol.
* * *
Sobre a derrota do Brasil, eu estou inclinado a acreditar no técnico da seleção brasileira. Ele tem razão mesmo, ele é ruim, mas questiono suas desculpas. Uma a uma.
A primeira é a de que o Brasil jogou mal. Esta, em particular, me intrigou porque a seleção norte-americana jogou mal, muito mal, e mesmo assim deu o maior trabalho para a Itália. Eu gostei tanto do jogo que passei a ter simpatia pela equipe dos EUA e até a torcer por ela. Cheguei, inclusive, a decorar algumas estrofes do "Star-Spangled Banner" e me emocionar silenciosamente durante os começos de seus jogos - com a mão sobre o peito e tudo mais. Não deu muito certo, concordo, mas eles atrapalharam todos os jogos de seus rivais, oras. O Brasil não. Portanto, jogar mal não é uma desculpa. De modo algum.
O técnico brasileiro disse que não teve tempo para treinar os jogadores: o francês também não, ué. E ele disse que teve muita pressão: o francês, assim como o time inteiro, foi atacado por toda a imprensa francesa. Uma considerável pressão, portanto. Ao contrário da imprensa brasileira, que eu jamais qualificaria como agressiva sobre os assuntos da seleção.
Ele disse também que é sempre o Brasil que perde, nunca os outros ganham: exatamente, a França jogou sozinha, sozinha, e mal; se não fosse aquele lateral francês (acho que o nome dele é Roberto Carlos - fale assim, fazendo biquinho), o jogo iria para as prorrogações. Vejam vocês, como é possível jogar sozinho e ainda empatar? Foi o Brasil que perdeu.
Finalmente, disse que, quando se ganha, o mérito é dos jogadores, e, quando se perde, a culpa é do técnico. Neste caso em especial, forço a boca para baixo e digo concordando (e até com um pouco de escárnio) que sim, sem dúvida. Não sei se o Brasil ganharia o jogo, mas se algumas substituições tivessem sido feitas antes, criariam (me perdoem, me perdoem) mais chances de gol.
Quem conhece um pouco de futebol percebeu o quanto eu sou ruim nessa coisa. E não sei se o que eu disse fez algum sentido. Fazia há alguns minutos atrás, eu acho, mas, em todos os casos, eu ainda sustento a teoria de que a seleção brasileira teria se saído muito melhor se contasse com a seguinte escalação:
Ronaldo (o roqueiro)
Júnior Baiano (para bater no Zidane)
Tupanzinho
Marlene Matos
Rincón (eu sei, eu sei, só de brincadeira)
Miller
Mirandinha
Evair
Neto (gordo por gordo...)
Viola
Paulo Nunes
Edmundo (para arranjar confusões; confusões sempre são legais)
Ah, meu time ideal conta com doze jogadores. E só não coloquei mais porque não consegui me lembrar de outros nomes. Ou porque eu não sei outros nomes. Isto é, sem dúvida, tudo que sei sobre futebol. E, bom, com esta seleção, no mínimo, seria mais divertido de se assistir a copa do mundo. Com certeza, seria melhor que ver gente feia discutindo sobre bananas.
[6 Comentário(s)]
Postado por
Edward Bloom
7/7/2006 às 09h34
|
| |
O economista que virou pop

Foi enterrado essa semana Arif Mardin, um dos mais premiados produtores musicais do pop. Mardin morreu em 25 de junho, devido a um câncer pancreático, diagnosticado há 18 meses. Só pelos números da carreira de Mardin já se desenha o impacto da perda: 12 prêmios Grammy - dois deles de melhor produtor do ano - e mais de 40 discos de ouro ou platina. Entre 30 de junho e 15 de julho, o festival de jazz de Montreux desse ano irá homenageá-lo com um tributo - vale lembrar que a carreira de Mardin, embora tenha se consagrado pelo pop, começou com o jazz.
Arif Mardin desembarcou no Logan Airport em janeiro de 1958, vindo de Istambul, na Turquia. Eram quatro da manhã de uma madrugada gelada do inverno de Boston e o arranjador de 26 anos decidiu virar a madrugada no hall do aeroporto, à base de coca-cola e chocolates, para economizar o dinheiro da diária do hotel. Ele tinha sido indicado como bolsista para a Berklee College of Music, por Quincy Jones, que estava em turnê em Istambul dois anos antes, com Dizzie Gillespie, e ficou impressionado com as composições do rapaz. Embora fosse fanático por jazz, Mardin já era graduado em economia pela Universidade de Istambul e pela London School of Economics e, até aquele momento, nem pensava em se tornar músico profissional.
Logo que se formou na Berklee, Mardin começou a trabalhar para a Atlantic Records Passou décadas como um dos maiores hit makers da gravadora, até se tornar vice-presidente sênior. Só saiu de lá mesmo porque chegou ao limite de anos para aposentadoria compulsória. Nesse momento, figuras-chave na indústria fonográfica norte-americana como Bruce Lundvall, presidente da Blue Note, e Roy Lott, presidente da EMI, ofereceram a Mardin e a outro veterano do mercado fonográfico, Ian Ralfini, os cargos recém-criados de vice-presidentes de um novo selo, o Manhatan Records, vindo da EMI.
Pelo Manhattan, a missão era produzir cabaret music e pop para adultos. Nada a ver com o perfil jovem que o fez explodir na Atlantic, com hit "Good Lovin", dos Young Rascals, de 1965. O sucesso que veio na seqüência foi "Respect", de Aretha Franklin. A música faz parte do álbum I Never Loved a Man (The Way I Love You) , que é considerado uma obra-prima do soul. Ao longo da carreira do produtor, a lista de artistas que trabalhou com ele não é apenas grande, mas bem eclética; vai de Bee Gees a Cher, passando por Phil Collins, Stevie Wonder, Smashing Pumpkins, Eric Clapton, Diana Ross, James Taylor, Barbra Streisand, Jewel e Queen, entre dezenas de nomes.
Num modelo como o do pop, em que o marketing é feito principalmente pelas rádios e pela MTV, um homem com esse faro para produzir sucessos comerciais acaba se tornando uma pessoa-chave. Não é comum resistir a esse mercado por quatro décadas. Mardin, numa aula magna do Berklee College of Music, deixou o seguinte conselho: "Quando você sentir nostalgia, tente resistir a ela e sem rejeitar a música do passado, olhe para o futuro".
Mardin trabalhava de forma bastante autônoma criativamente. Quando recebia material de um artista, preferia demos simples, em que apenas a linha melódica sobressaísse, em vez de trabalhos quase finalizados, cheios de idéias de outros produtores e arranjadores. Com apenas o essencial da música em mãos, podia criar com mais liberdade em cima das letras e melodias.
O último trabalho de repercussão em que o produtor esteve envolvido foi Come Away with Me, de Norah Jones, lançado pelo Manhattan. Mais delicado e limpo - bem diferente do estilo de Mardin na Atlantic -, lhe rendeu o segundo Grammy de melhor produtor. Latife, esposa de Mardin, disse ele estava envolvido com música até seus últimos dias. Mardin faleceu aos 74 anos, em Nova York.
[Comente este Post]
Postado por
Verônica Mambrini
6/7/2006 às 09h48
|
Mais Posts >>>
Julio Daio Borges
Editor
|
|