COLUNAS
Terça-feira,
26/6/2018
Entrevista com a tradutora Denise Bottmann
Jardel Dias Cavalcanti

+ de 15100 Acessos
Leitores da área de ciências humanas com certeza conhecem Denise Bottmann, cujo nome aparece na primeira página de um grande número de livros como a tradutora de áreas como a história da arte, teoria e história literária, ensaios sobre cultura, biografias e romances. Nomes como os de Argan, Longhi, Edward Said, Arendt, Thoreau, Thompson, George Steiner, Eagleton, Matisse, Virginia Woolf, Duras, Sam Shepard, dentre tantos outros, tiveram suas obras traduzidas para o português graças ao excelente trabalho como tradutora que Denise Bottmann desenvolve desde 1985, em línguas como o inglês, francês e italiano.
A tradutora Denise Bottmann é graduada em História pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Teoria da História pela UNICAMP. Foi por um período docente de filosofia da Unicamp.
Desde 2008 mantém o blog Não Gosto de Plágio, em que denuncia a publicação, por editoras brasileiras, de plágios de traduções de autores clássicos. Ganhou em 2013 o Prêmio Paulo Rónai pela sua tradução de Mrs Dalloway, de Virginia Woolf, e no ano seguinte o Prêmio Jabuti, terceiro lugar, por uma outra tradução de Woolf, Ao Farol. Em 2015, recebeu o Prêmio ABL de Tradução por Aguapés, de Jhumpa Lahiri.
Na entrevista, que gentilmente deu por e-mail para o Digestivocultural, Denise Bottmann comenta questões que envolvem seu trabalho como tradutora e as especificidades do ato de tradução.
JARDEL: O que a levou a abandonar a área de sua formação acadêmica (História) para se tornar uma tradutora profissional?
DENISE BOTTMANN: Ah, a vida é sempre meio engraçada, com tantas voltas e reviravoltas que fica até difícil traçar retrospectivamente um percurso mais ou menos coerente, quem dirá linear. Na verdade, entre me formar em História e virar tradutora profissional, como atividade principal, passaram-se bem uns 25 anos. Mas mesmo isso precisa de uns grãos de sal: comecei a traduzir profissionalmente, isto é, recebendo a encomenda de uma tradução e sendo paga para isso, em 1984. Mas minha atividade principal na época era a docência. Depois, nos meados dos anos 90, deixei a tradução e, logo depois, também a universidade. Para a universidade não voltei, mas a tradução retomei em 2005, aí já como atividade principal, embora não exclusiva, e nela me mantenho até hoje, agora em caráter exclusivo. O que me levou a isso, como formula a pergunta, foi um oceano de coisas, que nem vale muito a pena detalhar. O que foi legal nesses últimos cinco ou seis anos foi também a retomada de uma atividade propriamente historiográfica, pesquisando – de forma independente, sem vínculos profissionais – a história da tradução no Brasil. Como essas minhas pesquisas vêm sendo publicadas em vários periódicos acadêmicos, é como se todos esses aspectos, a formação, a vivência acadêmica e a paixão pela tradução, se reunissem numa coisa só.
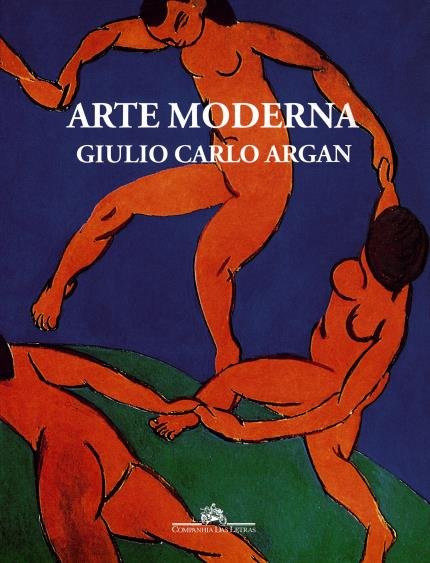
JARDEL: Como é feito um contrato de tradução entre você e a editora? Quem escolhe a obra a ser traduzida, que tempo se exige do tradutor, como é pago o trabalho?
DENISE BOTTMANN: Aí vou falar mais por mim, embora algumas coisas possam ter caráter geral, aplicável à maioria dos profissionais em tradução editorial. Os contratos entre a editora e mim são de transferência dos direitos autorais sobre a obra de tradução. Ou seja, segundo nossa legislação autoral, o que faço não é uma prestação de serviços, mas sim uma obra portadora de direitos autorais, que são de dois tipos, os patrimoniais (os direitos de explorar economicamente a obra, publicá-la, vendê-la etc.) e os morais (os direitos referentes à autoria dela, isto é, que traga meu nome, não seja alterada sem minha autorização e coisas do gênero). Então assinamos, a editora e eu, um contrato pelo qual transfiro meus direitos patrimoniais a ela, para que possa utilizá-la comercialmente. Os direitos morais permanecem comigo. Quem escolhe a obra é a editora: é ela que negocia com o autor ou a editora do autor os direitos para traduzi-la aqui no Brasil (salvo as obras em domínio público, que dispensam essa etapa), e aí ela me encomenda a tradução dessa obra. Claro que eu poderia sugerir algum livro a alguma editora, sem dúvida. Mas, se fiz isso uma ou duas vezes, foi muito.
Quanto ao prazo, há aquelas obras em que é um verdadeiro perereco, uma correria, mas isso é meio raro, bastante raro, eu diria – e, quando a pressa é muita, a editora divide a obra entre dois ou mais tradutores, para agilizar o processo. Naturalmente, se há uma urgência urgentíssima, a própria editora é que tem a iniciativa de oferecer um “adicional” no pagamento em vista dessa urgência. Mas o habitual – ufa, ainda bem, tal seria! – é que os prazos sejam razoáveis, tranquilos, sem maiores pressões. E não é bem que “se exige” um prazo: conversa-se, oferece-se, propõe-se, conversa-se. É tudo muito decente e civilizado.
E como se paga, você pergunta? Bom, a editora costuma ter uma tabela ou uma faixa de preços com que remunera esse trabalho de tradução. Os valores, sei que variam muito entre as centenas de editoras existentes no Brasil. Mas, nas editoras com que trabalho, essa faixa é mais ou menos parecida e não é nada que possa te levar a morrer de fome. E, se alguém procura você para algum trabalho oferecendo valores a que você não está acostumada, você explica, diz que sua faixa é outra; se houver acordo, muito que bem; se não, fica para outra oportunidade. Quando ao modo de pagamento, como às vezes são obras grandes, com oitocentas, mil laudas, vou retirando um tanto por mês até a entrega do trabalho, e depois recebo o saldo.
JARDEL: Existe um gênero específico em que você se sente mais à vontade para traduzir ou que graças à sua prática nesse gênero você o domina melhor e que também lhe interessa mais profundamente traduzir? Por quê?
DENISE BOTTMANN: Minha área são as ciências humanas ou, mais amplamente, as humanidades em geral. É do que mais gosto e em que tenho mais facilidade. Como trabalho, vai que é uma beleza. Como interesse e estímulo intelectual, é também o que prefiro. Mas é um leque razoavelmente amplo, desde história da arte (adorei traduzir os livros do Roberto Longhi, por exemplo) a estudos literários variados, com o amplo recheio de obras de história, sociologia, filosofia, teoria política, teoria econômica, ensaios de diversos tipos e assim por diante. E claro que o tema por si só não garante que a obra seja interessante ou agradável ou fácil ou difícil de fazer. Mas é a área por onde trafego com mais frequência. Curiosamente, outro dia me dei conta da quantidade de biografias (individuais e familiares) que traduzi: Freud, Van Gogh, Richard Burton, a rainha Vitória, Mandela, Salinger, Chanel, Oliver Sacks, a dinastia americana dos Stein, os Románov, Steve Jobs, Frank Sinatra, imagine só! (Se bem que os três últimos foram naquele esquema de dividir o trabalho por causa dos prazos.) O Van Gogh eu adorei. Por literatura ando me aventurando um pouco nos últimos anos, e tenho feito coisas que acho fascinantes – por exemplo, esse romance autobiográfico do Sam Shepard, Aqui de dentro, que saiu recentemente.
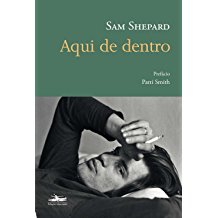
JARDEL: Existe no Brasil o reconhecimento do tradutor como deveria, com prêmios e tudo o mais, reconhecimento à altura do resultado do trabalho que realiza não só da tradução em si, mas como introdutor de importantes obras literárias, filosóficas e científicas de outras culturas em um país como o nosso, praticamente monolíngue?
DENISE BOTTMANN: Hahaha, imagino que nenhuma profissão acha que é reconhecida “como deveria”. Mas sim, o que você levanta é importante. Não, não há. E nos últimos anos os prêmios – que já não eram muitos – andaram diminuindo bastante: o Oceanos parou de contemplar a categoria Tradução; a ABL acabou com todos os seus prêmios (e não só o de tradução), mantendo apenas o Machado de Assis pelo conjunto da obra; o União Latina (para obras técnicas e científicas) deixou de existir. Restaram o Jabuti da CBL, apenas para tradução de obras literárias, o da FNLIJ, para tradução de obras infantis e juvenis, o da APCA, também para tradução literária, e sem sistema formal de inscrição e julgamento, mas por avaliação interna, e o Paulo Rónai da FBN, que acaba sendo o mais abrangente. E nem de longe passa muito a ideia disso que você comenta: o papel da tradução como a grande, a única maneira de estabelecer contato, criar laços, fazer parte do mundo para além de nossas fronteiras. Mas esse mérito, creio eu, cabe mais à tradução concebida em termos amplos, como atividade que se processa social e historicamente, envolvendo um grande número de agentes, contando na linha de frente, claro, com um setor editorial que tenha um mínimo de pujança dentro da economia geral de um país.
JARDEL: Quando comecei a ler a biografia de Van Gogh, de mais de mil páginas, e descobri que você a traduziu, pensei e me interroguei: meu Deus, que trabalheira traduzir tantas páginas, quanto tempo deve ter demorado esse trabalho? Então, quanto tempo, quanta dificuldade e quanto suor foi necessário para esse trabalho todo?
DENISE BOTTMANN: Ah, até comentei mais acima (não tinha ainda visto essa pergunta) que adorei fazer o Van Gogh. Sim, foi uma delícia. Trabalheira é, claro, mas trabalheira da boa, gostosa. De tanto que me envolvi com aquilo, até criei um blog de acompanhamento da tradução, que se chamava A biografia do Van Gogh – enquanto vou fazendo, vou falando [https://abiografiadovangogh.blogspot.com/]. Não foi difícil, de forma alguma, e aprendi muito. Foram quatro meses, quatro meses e meio talvez. Mas é isso o que eu faço, entende? Tanto faz que o livro tenha cem ou mil páginas; traduzo todos os dias, de segunda a sexta, antigamente umas seis a oito horas por dia; hoje, que ando mais vagabunda, são umas quatro, cinco horas por dia. Então tanto faz; se não for uma coisa, é outra. E é muito gostoso, ótimo mesmo, quando o livro é legal e é comprido. Ruim é quando o livro é irritante ou tristíssimo ou medonho. Aí, sim, você sofre, aquilo, mesmo que não seja imenso, parece que não acaba mais.
JARDEL: No livro “Poética do traduzir”, Henri Meschonnic diz que “traduzir põe em jogo a representação da linguagem na íntegra, não se limitando a ser o instrumento de comunicação e de informação, de uma cultura a outra, considerado inferior à criação original, sendo a tradução o melhor posto de observação sobre as estratégias de linguagem”. O que você acha dessa afirmação?
DENISE BOTTMANN: Sim, sim, concordo. Gosto de uma imagem da Rachel de Queiroz (que foi ótima tradutora e durante uns dez anos teve a tradução como seu ganha-pão), que dizia: “Eu lembro que, na época em que traduzia, eu me sentia como se estivesse desmanchando a costura, desmanchando o crochê de certos escritores, descobrindo os pontos, os truques prediletos deles”. Você como que decompõe o trabalho feito e tem de reconstituí-lo em português levando em conta esses procedimentos compositivos, que você só consegue sacar num nível mais estrutural, analisando as “estratégias de linguagem”, como diz o Meschonnic. Daí tanta gente dizer, inclusive os próprios autores, que o melhor leitor é o tradutor – pois claro, tem que ser mesmo, pelo menos o mais detalhista e minucioso; senão, como fica?
JARDEL: Em “Além do bem e do mal”, Nietzsche diz que a maior obra de prosa alemã é a tradução da Bíblia por Lutero. Nesse sentido, a valorização da tradução supera o conteúdo específico do livro sagrado, tornando-o uma obra exemplar de prosa. O tradutor pode ser também, nesse sentido, um bom prosador? Como?
DENISE BOTTMANN: A história do Lutero tradutor é interessante, mas também meio complicada, e a afirmação talvez um tanto demagógica do Nietzsche também tem um pouco desse lado de querer desmistificar um eruditismo pedante que não lhe agradava – embora o elogio da tradução luterana não fosse original; pelo contrário, já era algo corrente. Mas, pegando o cerne da questão, sim, claro, o tradutor pode – e até deve – ser um bom prosador. Não precisa ser autor de obra própria, mas precisa ter domínio e desenvoltura na escrita. E tantos livros, tantos tradutores têm uma prosa tão maravilhosa que dá gosto de ler. O mais recente a me despertar grande encanto pelo texto tão agradável e envolvente foi a tradução do Rubens Figueiredo para os Contos de Odessa, do Isaac Bábel.
JARDEL: No seu trabalho de tradução já ocorreu de você ter que melhorar um texto que julgasse ruim, tornando-o não só mais claro, mas mais bem escrito?
DENISE BOTTMANN: Hmm, não, não que eu me lembre. Posso não gostar, achar dogmático, trivial, repetitivo, ensandecido, qualquer coisa assim, mas isso quem acha é a Denise leitora, não a Denise tradutora. O que às vezes ocorre – mas é meio raro, devido ao tipo de obras que traduzo com mais frequência, que costumam ter razoável rigor e coerência – é encontrar algum pequeno lapso, algum equívoco, algum problema de continuidade. Aí marco a passagem traduzida conforme o original, ponho um destaque em amarelo por cima da passagem e acrescento entre colchetes, também em destaque para o editor ver, a retificação que me parece cabível. Aí o editor decide, às vezes consulta o autor ou a editora do original, e procede como julgar mais conveniente. Porém, como disse, é algo raro de acontecer. Mas, pegando a deixa, tem autor que não é claro, deliberadamente; é equívoco, é ambíguo, é contraditório, é elíptico. Aí, evidentemente, você vai manter a obscuridade pretendida, não vai “esclarecer”, não vai aplainar nem facilitar. Mas isso também é detalhe, é uma questão mais técnica, meio difícil de explicar sucintamente, e que ocorre mais em literatura do que em bibliografia acadêmica.
JARDEL: O tradutor de poesia é visto como traidor, dadas as especificidades da poesia, que são praticamente impossíveis de serem reproduzidas em outra língua. Como você vê as ideias de Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que na tradução de poesia propõem, como resposta a essa impossibilidade, uma espécie de “transcriação” do poema (e até “transluciferação”), exigindo do tradutor de poesia a “recriação” do poema original e não apenas uma tradução do “conteúdo”? Exigência essa que pede atenção sobre todos os planos da linguagem: o fonético, o sintático, o semântico, o prosódico. (NOTA: Formulei essa questão a partir da leitura do texto “Augusto de Campos como tradutor”, de Paulo Henriques Britto).
DENISE BOTTMANN: Cá entre nós, não me derreto de amores pelo Augusto de Campos – há belas traduções dele, claro; penso sobretudo nas de trinta, quarenta anos atrás, de poesia provençal, mas sempre preferi o Haroldo, tanto em suas teorizações quanto em suas traduções. A grande alavancada da coisa foi, sem dúvida, a inspirada iniciativa de Haroldo em se abeberar no Pound, trazendo brisas renovadoras à nossa paisagem. A sensação que tenho, às vezes, é que o termo se trivializou um pouco – o próprio Haroldo foi, até onde consigo entender, modificando um pouco o conceito e ficou um tanto fluido: o que, aliás, me parece mais uma prova de sua altíssima qualidade de tradutor, de tal forma que a dinâmica, a práxis tradutória se mostra muito mais fundamental e determinante do que a elaboração teórica; para manter alguma validade efetiva, esta se adequa, se molda àquela. Em termos mais gerais, porém, as dificuldades mais específicas da tradução de poesia, pelo que vejo, estão relacionadas sobretudo a questões de rima e metro (e/ou também distribuição tônica). Pois os planos da linguagem que você cita, “o fonético, o sintático, o semântico, o prosódico”, encontram-se também a todo vapor em qualquer prosa literária dotada de alguma densidade. Você não consegue sequer imaginar um romance de, sei lá, Virginia Woolf dissociado de sua elaboração linguístico-estilística: não existe um “conteúdo” pairando espectralmente por cima ou em volta da estrutura compositiva da obra. Este, aliás, acho que é um problema que às vezes ocorre em certas concepções da tradução poética: no frenesi em tanto afirmar a unidade do poema, e talvez até como forma de compensação de um suposto tradicional conteudismo, enfatiza-se de tal modo um dos lados (digamos, a não-mais-chamada “forma”) que sua própria matéria, o não-mais-chamado “conteúdo”, acaba ficando um pouco mutilada. À força de, digamos, tentar fazer caber os versos dentro de uma moldura métrica, rímica e rítmica, vê-se em alguns casos o cruento e implacável sacrifício de imagens e figuras de linguagem que, não raro, têm peso maior do que o enquadramento adotado para a transposição. E você fica com a impressão de que, em alguns casos, aquilo vira quase uma espécie de fetichismo. Mas digo isso mais como leitora do que como tradutora de poesia, embora, de vez em quando, eu também tenha de me aventurar pela tradução de alguns poemas.
JARDEL: Citando Paul Valéry: “O poeta é uma espécie singular de tradutor que traduz o discurso comum, modificado por uma emoção, em ‘linguagem dos deuses`”. Invertendo a questão, podemos falar em uma poética da tradução?
DENISE BOTTMANN: Hm, não creio que tenha entendido bem a pergunta.
JARDEL: Talvez eu queira saber se a tradução pode operar um milagre diante do original. Mas deixemos essa questão para lá. Rs
JARDEL: Traduzir uma obra a partir de uma tradução já existente em outra língua (por exemplo, Kafka e Dostoievski traduzidos do inglês e francês, como aconteceu no Brasil) é um mal menor (afinal, pode-se ler, mesmo assim, aquilo que não se leria no original), ou apenas um desastre?
DENISE BOTTMANN: Imagina, desastre! De maneira nenhuma. E “mal menor” em termos, também, não é? De todo modo, a pergunta me parece um pouco ambígua: “traduzir uma obra” e “pode-se ler” – estamos falando do tradutor ou do leitor final? O leitor, suponho eu, há de agradecer, claro, pois, como você diz, apesar da ressalva “mesmo assim”, ele pode ler aquilo que não leria no original. Já o tradutor há de fazer o que lhe é possível fazer. Isso falando em termos gerais. Falando em termos mais concretos, o surgimento de um efetivo setor editorial no Brasil, com alguma capacidade de autossustentação, é fenômeno bastante recente, que não chega a um século de existência, e sua consolidação não foi instantânea e sim gradual, embora, em vista das circunstâncias, até relativamente rápida. Então até podia haver um ou outro editor que se empenhasse em publicar traduções diretas, por exemplo, do russo, e podia haver um ou outro tradutor capacitado a fazer traduções diretas, ainda por exemplo, do russo. E não era só uma questão de conhecimento ou domínio de línguas menos usuais no Brasil – o tema é longo e complexo, envolvendo outras variáveis, talvez até mais importantes. Em todo caso, o que quero dizer é que se traduzia como dava: direta ou indiretamente do francês, do espanhol e, a partir de certa altura, diretamente do inglês – e nisso foi fundamental o papel do Monteiro Lobato (pois, não sei se você sabe, mas até o Oliver Twist o Machado de Assis traduziu do francês e, por lindo que seja O corvo dele, não sei como ficaria sem suas consultas também ao Baudelaire). Repito, sempre havia aquele classicista oitocentista que traduzia do latim ou do grego (Odorico Mendes, p.ex.), ou aquela descendente de algum imigrante germânico que conhecia a língua e traduzia do alemão (Carolina von Koseritz, p.ex.), ou aquele refugiado da Revolução soviética (Georges Selzoff, p.ex.) ou aquele comunista que fora viver algum tempo na URSS e dominava o russo (Moacir Werneck de Castro, p.ex.) – mas eram de se contar nos dedos. Já era fantástico, a meu ver, que, na esteira da grande crise de 1929, inviabilizadas as importações de livros estrangeiros e da maciça quantidade de traduções publicadas em Portugal, começasse a se desenvolver uma indústria editorial brasileira, inclusive vigorosamente fomentada pela política nacionalista de Vargas. Então, falar em desastre, em mal menor, isso e aquilo, me parece – com desculpas pela expressão – coisa de criança manhosa. Fazia-se o que se podia – e até, penso eu, freneticamente. E hoje em dia, sendo o cenário muito diferente nesses últimos cinquenta anos, ainda pode haver casos de tradução por interposição, mas são cada vez mais raros. Aliás, por falar nisso, recentemente fiz uma tradução interposta (talvez a primeira na minha vida profissional), a Utopia, de Thomas More, a partir do inglês. Por sorte, como não sou totalmente ignorante em latim, deu para acompanhar linha a linha pelo original neolatino (e até encontrei uma frase do original que o grandíssimo tradutor inglês, Dominic Baker-Smith, havia pulado, acredita numa coisa dessas? Achei divertido!). Mas, em suma, o que quero dizer é que, mesmo que ainda se faça, vez por outra, alguma tradução por interposição, qualquer tradutor, imagino eu, vai buscar amparo no original e/ou no aparato crítico que cerca aquela obra.
JARDEL: É famoso o caso das traduções de Freud, onde alguns conceitos-chave de sua obra são precariamente traduzidos colocando o sentido de suas ideias em risco, e há muita literatura sobre os equívocos das traduções das obras do pai da psicanálise. Como um tradutor pode evitar criar problemas em uma obra tão exigente como a de Freud ou outro pensador?
DENISE BOTTMANN: Nisso há um pouco de mitologia também, não? Quase cem anos depois, fica fácil falar qualquer coisa. Há décadas criticam-se tremendamente as traduções do James Strachey, que até hoje formam a Standard Edition das obras completas de Freud. Mas se a gente lembrar que o Freud estava ciente, a par, acompanhando as publicações, que foi a própria associação internacional de psicanálise em sua seção britânica que criou uma parceria com a Hogarth Press nos anos 1920 (editora, aliás, de Leonard e Virginia Woolf), que o Strachey fazia parte daquele círculo, você vai dizer o quê? Que o Freud foi “traído”? Que o Strachey era um desleixado? Complicado, né? Ou a história da turma francesa oscilando entre instinct e o neologismo pulsion para o Trieb original (que no inglês ficou como drive)? Quer dizer, isso para mim fala mais do aprofundamento, complexificação e diversificação de uma área de estudos do que propriamente de “problemas de tradução”. E essa abrupta afirmação, “precariamente traduzidos colocando o sentido de suas ideias em risco”, que hoje em dia faz parte do senso comum, às vezes talvez sirva também como uma espécie de slogan, como acompanhamento de uma pretensão de grande avanço qualitativo de tal ou tal estudo ou de tal ou tal tradução. Então eu iria com mais calma na hora de avaliar esse tipo de questão, antes de enunciar juízos muito bombásticos.
Mas, respondendo mais diretamente à pergunta, com autor vivo (como Freud naquela época), não há muito problema. É só conversar com ele – e, mesmo assim, depois pode dar um tremendo bafafá (exemplos: Freud, mais uma vez, ou, mais próximo de nós, o Guimarães Rosa, apesar da extensa e minuciosa correspondência com seu tradutor alemão, Curt Meyer-Clason, que depois virou saco de pancadas). O bafafá faz parte. As coisas não param, e sempre vai ter gente criticando, retificando, aprimorando etc., até que alguma hora, décadas ou séculos depois, aquilo vai ser resgatado com grandes pompas e fanfarras. Normal. Agora, com autor clássico, o grande arrimo com que o tradutor pode contar é a fortuna histórico-crítica de muitas décadas ou de séculos, às vezes até milênios, de análises, estudos, interpretações em torno da obra, do autor, da época, da inserção dentro de tal ou tal panorama, de seu impacto e desdobramentos, e assim por diante.
Resumindo, tradutor nunca está sozinho e tradução nunca ninguém faz sozinho. Você está no mundo, dos vivos e dos mortos, e vai dialogando. Pode evitar alguns problemas, mas certamente criará (ou criarão por você) outros. E é bom que assim seja.
Jardel Dias Cavalcanti

Londrina,
26/6/2018
Mais Acessadas de Jardel Dias Cavalcanti
em 2018
01.
Entrevista com a tradutora Denise Bottmann - 26/6/2018
02.
A Fera na Selva, filme de Paulo Betti - 22/5/2018
03.
Goeldi, o Brasil sombrio - 20/11/2018
04.
Hilda Hilst delirante, de Ana Lucia Vasconcelos - 16/10/2018
05.
O pai da menina morta, romance de Tiago Ferro - 3/4/2018
* esta seção é livre, não refletindo
necessariamente a opinião do site
|